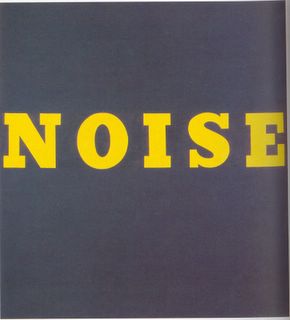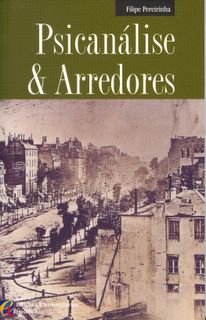Sem ser propriamente catastrofista ou optimista, como o autor sublinha nas “notas finais”, o mais recente livro de José Gil (Portugal, hoje - o Medo de Existir, Relógio d'Água) propondo-se abordar um tema algo “indefinido” e transversal a diversas disciplinas, é de uma extrema lucidez acerca do nosso país. Nessa medida, o tom que ele imprime à forma como conclui um dos capítulos, dizendo abertamente que “Portugal arrisca-se a desaparecer” (cf pp. 71-73), mais do que alarmista, soa lógico e consequente com todo o resto da sua argumentação.
Na base desta argumentação, há uma tese essencial: Portugal é o país da “não-inscrição”. Isto não significa que Portugal, nestes últimos anos, não tenha feito um esforço para se “inscrever”, nomeadamente na Europa; mas tal “inscrição” é apenas imaginária, aparente, e aquilo de que se trata aqui é circunscrever “algo” que não seja, por assim dizer, do registo da aparência. Algo “real”, que “marque” o real e o transforme produtivamente. Pelo contrário, segundo o autor, em Portugal nada tem existência real, nada se inscreve, nada acontece. Não obstante, cultiva-se a imagem (o narcisismo), sobretudo para fora, para os outros, os estrangeiros; fala-se muito, mas é uma fala “esvaziada”; escreve-se e legisla-se sobre quase tudo, talvez porque nada se “inscreve” realmente. Há, assim, uma espécie de “nevoeiro” ou “sombra branca” (em grande medida inconscientes) a cegar o desejo e a tolher a acção.
Nesta incursão pelo “nevoeiro” que nos tolda e paralisa, e apesar da sugestão “mítica” do termo, não se trata aqui de uma nova “psicanálise mítica” (Eduardo Lourenço) sobre Portugal, ainda que, para o bem ou para o mal, a psicanálise seja uma das referências constantes do autor ao longo deste “ensaio”. Sobretudo alguns nomes: Freud, Ferenczi, Nicolas Abraham, Maria Torok, e algumas noções: “inconsciente”, “trauma psíquico”, “cripta”, etc. O que mostra, de algum modo, a produtividade dos conceitos psicanalíticos mesmo para “além dos muros” da psicanálise propriamente dita.
Mas o que é uma “inscrição”? O próprio autor faz a pergunta (p. 48) e dá-nos um conjunto de elementos que nos ajudam a situar a resposta. Antes de mais, há que fazer a diferença entre as “boas” e as “más” inscrições”, ou seja, as que aumentam o poder de vida e as que o destroem. Depois, convém fazer a diferença entre três registos (real, imaginário e simbólico) segundo os quais podemos enquadrar a questão. De acordo com o autor, não há inscrição imaginária e a inscrição simbólica não tem um poder transformador, pois não faz mais do que continuar a realidade já construída. Sendo assim, a verdadeira ou “boa” inscrição é, na sua essência, um acontecimento “real”.
É aqui, talvez, em meu entender, que a argumentação de José Gil é mais frágil. Na verdade, se, por um lado, ele diz que a inscrição simbólica (numa clara, se bem que não explícita, alusão à psicanálise de orientação lacaniana) “não faz mais do que continuar a realidade já construída” (pp. 48-49), por outro, não deixa de reconhecer e sublinhar que a fala representa uma “condição essencial da inscrição” (p. 54). Segundo o exemplo que ele próprio dá, uma mãe pode investir toda a sua ternura no acto de amamentar um bebé, mas para que esse acto se inscreva, tanto nela como no bebé, é preciso que ela lhe fale enquanto o amamenta. Como se vê pelo exemplo, a fala, aqui, não é mero veículo de uma inscrição prévia (digamos, real), mas a “condição” para que essa inscrição (real) se torne possível e aconteça efectivamente. Percebendo-se, embora, que o autor queira insistir na natureza “real” do fenómeno (e não “aparente”, segundo um possível entendimento do “imaginário” e do “simbólico”), também seria importante esclarecer, para que não fique a sensação de um certo “nevoeiro conceptual”, que o “real” (pelo menos em Lacan) não se confunde com a “realidade”, tal como o “imaginário” não se confunde com a “imagem” e o “simbólico”, se bem que a torne possível, não se confunde com o “esvaziamento da palavra”, de que fala o autor (p. 57).
Prosseguindo: o que se inscreve (realmente) é fonte de potência, de vida, desejo e transformação “real”; o que não se inscreve ou inscreve “mal”, repete-se, por exemplo sob a forma de medo; um medo como efeito da não inscrição, mas também como causa, como “estratégia para não inscrever” (p. 78). É nessa medida que ele, perdido o objecto que o causa, porque não inscrito, se torna difuso, sem objecto (apesar da definição de Freud, que lhe dava um objecto, diferentemente da angústia) e se transforma, segundo a expressão do autor, que dá subtítulo a este ensaio, num “medo de existir”.
Como causa próxima deste “medo”, podemos apontar o “salazarismo” (de resto, não é a primeira vez que o autor o revisita), mas a novidade deste livro está em supor que as causas podem vir de mais longe (cf. p. 134), de uma espécie de “trauma inaugural”, reactivado através da história, de que o “salazarismo” seria (apenas) um dos pontos culminantes. Esse trauma inaugural, segundo o autor, é o próprio “trauma da não-inscrição” ou a “não-inscrição que se torna trauma”. Isto quer dizer, finalmente, que não é este ou aquele acontecimento em particular que não se inscrevem, mas a própria existência, a não inscrição da existência como tal.
Resta a pergunta: porque é que em nós, talvez mais do que nos outros (segundo o tom geral do livro) se cristalizou este “medo de existir”? Uma resposta, não toda, é porque houve, na nossa história, acontecimentos, contingências ou vicissitudes, de que o salazarismo é o exemplo mais recente e ainda vivo, se bem que imaginária, simbólica e realmente “mal inscrito”.